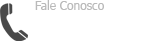22/07/2019 - Moedas digitais, como a libra do Facebook, ameaçam status do sistema financeiro
VoltarVALOR
Por: Carlos Rydlewski
Nos próximos anos, a expressão "bolso cheio" vai cair ainda mais em desuso. No mês passado, o Facebook anunciou a criação da libra, uma moeda digital (criptomoeda) que deve chegar ao mercado em 2020. A notícia provocou estardalhaço. Se cada um dos 2,32 bilhões de usuários da rede social (30% da população mundial) aderir à novidade, a companhia de Mark Zuckerberg pode se transformar na maior instituição financeira do planeta.
A libra quer atrair parte do 1,7 bilhão de "desbancarizados", aqueles que vivem à margem do sistema bancário. Entre seus alvos está ainda o segmento de remessas internacionais de valores, que movimenta US$ 600 bilhões ao ano. O futuro do dinheiro, forjado por bits e bytes em plataformas on-line, já está em andamento.
Nas últimas semanas, a mera possibilidade de existência da nova moeda digital despertou apreensão entre autoridades mundiais, que se organizam para barrar a empreitada. Alegam que a iniciativa de Zuckerberg colocará em risco o sistema financeiro mundial. Diante da reação, especialistas como Kenneth Rogoff, professor de economia em Harvard e ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), passaram a questionar as reais chances de sucesso do projeto.
"A libra deixou a comunidade das criptomoedas empolgada, porque o Facebook, com seu vasto poder, estará ao seu lado", diz Rogoff ao Valor. "Mas os governos não vão deixar suas moedas fiduciárias perderem espaço. Eles vão mudar regulamentos e regras para garantir que isso não aconteça."
Até o momento, a libra já teve o mérito de reaquecer o debate sobre mudanças iminentes e radicais no mundo financeiro. Na prática, essas alterações estão reescrevendo a história do uso do dinheiro a partir de dois paradigmas: a conveniência e a digitalização. Esta não é calcada somente em sistemas de inteligência artificial (IA). Rogoff é um dos pivôs dessa vertente de discussões. Ele abordou o tema em "The Curse of Money" [A Maldição do Dinheiro, sem edição no Brasil]. No livro, o professor de Harvard defende que os bancos centrais (BCs), principalmente dos países desenvolvidos, devem emitir criptomoedas. Ou seja, eles precisam atuar como protagonistas dessa transformação.
Rogoff sustenta sua tese com base em um dado surpreendente. Ainda que o papel-moeda esteja perdendo lugar de várias maneiras (cartões com chips, pagamentos instantâneos e criptomoedas), a demanda pelo velho "dinheiro vivo" aumenta há duas décadas nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, no fim de 2015, havia US$ 1,34 trilhão em moeda corrente em circulação. Perto de 80% desse estoque era formado por notas de alto valor, como US$ 100. Se toda essa quantia fosse dividida entre a população, cada família americana de quatro pessoas deveria ter US$ 13,6 mil em casa (ou US$ 4,2 mil per capita).
Já que essas quantias não estão dentro de colchões, Rogoff concluiu que elas criam dois problemas. Por um lado, são usadas para movimentar "economias subterrâneas", que representam 14% do PIB mundial. Nesse espaço obscuro, florescem atividades como o tráfico de droga e de seres humanos, a corrupção, a lavagem de dinheiro e a imigração ilegal. Por outro lado, essa abundância de cédulas também compromete a boa prática da política monetária - uma questão cada vez mais central para as economias de países desenvolvidos.
Nessas nações, as taxas de juros têm se mantido baixas na última década, sendo que algumas delas estão próximas ou já bateram no zero. As explicações para esse fenômeno intrincado são inconclusivas. Apontam para fatores que vão da queda da produtividade a mudanças demográficas (o envelhecimento da população elevaria a poupança e, com isso, as taxas cairiam). Nesses países, os BCs não têm margem para abaixar os juros e intervir na economia. Se adotassem taxas negativas, os investidores iriam se proteger comprando dinheiro em espécie. Mas, se o papel-moeda fosse retirado da praça, ou seja, se a moeda fosse digitalizada, os juros poderiam ir a patamares abaixo de zero.
Assim, o dinheiro de bits teria a dupla função de atacar o submundo dos negócios e dar novo fôlego aos BCs. "O crime pode achar outros caminhos para atuar, mas a recuperação da política monetária é o motivo mais sério a partir do qual se discute uma ampla digitalização da moeda em termos globais", afirma Affonso Celso Pastore, presidente do Banco Central do Brasil entre 1983 e 1985. Em países como a Suécia, por exemplo, esse debate está bem adiantado.
Mas a ideia tem chances de prosperar? Muitos analistas dizem acreditar que sim. A questão é em quanto tempo. "Todos os bancos centrais têm estudos e conhecem o assunto, mas a criação da moeda digital dos BCs é a maior ameaça ao sistema bancário", afirma o economista André Lara Resende. "Hoje, sócios do processo de emissão monetária, os bancos perderiam este 'cartório'. Por isso, argumentam que há riscos enormes no processo, e ele deve ser conduzido com cautela."
De qualquer forma, enquanto as coisas não se resolvem no andar de cima da economia, na base da sociedade as mudanças fervilham aquecidas por inovações. A médio e longo prazos, especialistas como Neha Narula, diretora da área de moedas digitais no Media Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), pregam que as transformações vão alterar principalmente o fluxo das moedas. Hoje, esse caminho estaria repleto de travas, comuns às mais diversas entidades financeiras. Elas provocam atritos, elevam os custos e reduzem a eficácia do sistema. Por isso, torna-se tão caro transferir recursos entre países.
A tecnologia, contudo, tende a derreter esses nós. As criptomoedas, como a proposta da libra e o bitcoin, a mais famosa de todas, além de outros 2 mil ativos digitais similares (criptoativos), representam somente um primeiro e tímido passo nessa jornada. Elas quebram paradigmas ao tornar obsoleto o sistema financeiro tradicional, mas ainda têm muito a evoluir. Hoje, afirma Neha em suas palestras, elas estão para a revolução das finanças no mesmo estágio de desenvolvimento que os automóveis estavam no início do século passado, numa época em que as carroças ainda dominavam a paisagem urbana.
Ainda assim, advertem analistas, parte da fundação desse novo mundo já está pronta. Ela se chama blockchain. O sistema, no jargão Distributed Ledger Technology (DLT), surgiu em 2008 como suporte do bitcoin. Foi concebido como um mecanismo para permitir o armazenamento e transferência do dinheiro digital. Transformou-se, no entanto, em uma ferramenta por meio da qual diversos tipos de transações e contratos podem ser firmados com segurança e transparência, dispensando o uso de infraestruturas tradicionais que vão de bancos a cartórios. Na prática, o blockchain promove uma fusão entre moedas e softwares. E faz isso de forma descentralizada.
Embora tenha nascido como parte do bitcoin, o blockchain alçou voo solo. Está sendo empregado por empresas de seguros, planos de saúde, compliance automatizado e até sistemas de energia solar. Com ele, é possível ainda rastrear produtos, o que inclui desde um pacote de café a um lote de pedras preciosas. A Prefeitura de Belo Horizonte aliou-se à Microsoft para empregar a tecnologia no controle das áreas públicas de estacionamento da capital mineira.
Por causa de tamanha versatilidade, o executivo canadense Don Tapscott, coautor do best-seller "Wikinomics", virou um arauto do blockchain. Ele diz não acreditar que apenas uma criptomoeda substituirá o dinheiro de papel no futuro, mas afirma crer que todas as futuras moedas digitais serão movidas a partir de cadeias de blockchain.
Não é preciso esperar muito tempo para ver mudanças na forma e no uso do dinheiro. Alterações desse tipo abundam pelo planeta. As "e-wallets" são um exemplo. Essas "carteiras digitais" são aplicativos usados em celulares e tablets. Muitas delas criam uma identidade digital (conhecida como "token"), que reúne os dados financeiros do usuário. Para realizar uma compra, basta aproximar o telefone móvel de uma máquina ou de um código (tipo QR Code). As senhas são dispensáveis. A conveniência está na raiz desse modelo.
O estudo Global Payment Methods (Métodos de Pagamento Global), da Adyen, companhia holandesa especializada na indústria de pagamentos, indica que 70% da população economicamente ativa da China usa carteiras digitais. As duas maiores e-wallets do país, WeChat e Alipay, do Alibaba, movimentaram cerca de US$ 3 trilhões em 2016 (último dado disponível). Elas foram adotadas de forma tão generalizada, que pagam despesas em barracas de comida nas ruas ou garçons. Estes, em muitos casos, recebem gorjetas por meio de QR Code fixado no uniforme. Gigantes como Apple, Google e Samsung oferecem tecnologia similar.
No Brasil, a lista de pioneiros que empregam pagamentos instantâneos inclui marcas como Magazine Luiza, iFood, Rappi, Dafiti e OLX. Por aqui, embora a base ainda seja pequena, o crescimento das e-wallets é rápido. "Elas avançaram 65% no primeiro trimestre deste ano e já haviam crescido em torno de 50% em 2018, quando começaram a ser usadas", diz Jean Christian Mies, presidente da Adyen para a América Latina. Ainda assim, como observa Gustavo Tayar, sócio da consultoria McKinsey, o uso das carteiras digitais por brasileiros encontra barreiras. "Há resistência de pequenas e médias empresas em adotar meios eletrônicos de pagamento", diz Tayar. "Isso acontece tanto pelo desejo dos comerciantes de permanecer na informalidade como por conta dos custos desses sistemas."
Em todo mundo, principalmente na Europa, as relações com as instituições financeiras também estão sendo repaginadas pela prática do "open banking". O conceito por trás desse modelo indica que os dados financeiros não pertencem aos bancos, mas aos correntistas. Assim, outras empresas, como startups embaladas por programas de inteligência artificial, podem utilizar as informações bancárias dos consumidores para criar novos aplicativos.
Esses apps, por exemplo, consolidam contas de diversas instituições em uma só tela (com contas correntes, investimentos e cartões de crédito) ou criam planilhas que analisam os gastos e a maneira como eles são feitos. "As novidades em torno do 'open banking' não tiram os bancos tradicionais do circuito", afirma Ricardo Polisel, diretor de estratégias digitais da consultoria Accenture. "Mas criam um novo ecossistema de serviços que muda a paisagem do setor." O BBVA, da Espanha, e o banco digital N26, da Alemanha, que está iniciando operações no Brasil, estão entre as instituições que atuam na vanguarda dessa onda.
O processo de bancarização de pessoas pobres também está em plena ebulição no planeta. Tudo graças à tecnologia - e ao celular. As iniciativas nesse campo incluem o M-Pesa, presente em diversos países da África, que faz transferências de dinheiro por créditos de telefones. No Quênia, ele movimenta perto de 50% do PIB. A pequena Somalilândia, uma autoproclamada república africana, vem sendo apresentada ao mundo como um dos primeiros países perto de abolir o uso do dinheiro. Ali, duas empresas, a Zaad e a e-Dahab, lançadas nos últimos dez anos, criaram uma economia virtual dominante, também baseada em créditos de celulares.
Na Índia, o app PayTM é um gigante dos pagamentos instantâneos. É usado para quitar despesas que vão das corridas de riquixás motorizados a passagens de aviões. Tem versões que permitem até a compra de ouro e a operação de fundos. Conta com investimentos de pesos-pesados globais como o Softbank, de Masayoshi Son, e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. O sistema teve grande impulso em 2016, quando o primeiro-ministro indiano Narendra Modi resolveu retirar de circulação as notas de valor mais alto (as cédulas de 500 rúpias e mil rúpias), para combater a sonegação.
Com isso, fez-se o caos e os downloads da PayTM explodiram. A Índia tornou-se desde então um terreno fértil para pagamentos via celular. Por isso, desde o início de 2018, o WhatsApp, do Facebook, testa um sistema desse tipo no país. No mundo, não por acaso, o mercado de pagamentos via celular pode atingir US$ 4,5 trilhões em 2023, segundo estimativa da consultoria Allied Market Research. Ela aponta para uma taxa média anual de crescimento de 33% desde 2016 desse setor. Estima-se que só em 2019 o mercado movimente US$ 1,08 trilhão em termos globais.
Disso tudo, o que o Facebook pretende abocanhar? À primeira vista, tudo: transferências de dinheiro, pagamentos on-line e bancarização, além de empréstimos. O problema é que, até aqui, a vida das criptomoedas não tem sido fácil. Um de seus maiores problemas é a volatilidade. Por serem assíduas tanto em picos como em vales, muitos especialistas acreditam que elas não servem como referência para cotação de preços, nem como unidade de conta. O bitcoin, por exemplo, o maior e mais famoso criptoativo, saiu do zero em 2009. Em dezembro de 2017 atingiu a cotação de US$ 19,5 mil por unidade, seu maior valor histórico. A partir daí despencou até US$ 3,2 mil, em dezembro de 2018.
Em junho, com o lançamento da libra, o bitcoin ganhou novo embalo. Chegou a ser negociado por US$ 14 mil, mas caiu no início de julho até US$ 9,8 mil. "Essas oscilações são naturais", diz Alexandre Vasarhely, sócio da gestora de fundos BLP Crypto. "Precisamos pensar nesses ativos como se fossem startups que, por serem novas, estão sujeitas a fortes avanços e recuos." Ainda assim, os criptoativos são criticados por conta de características como o anonimato que os envolve, o que daria margem para usos como a lavagem de dinheiro ou transferências internacionais sem o crivo do Fisco. No ano passado, Christine Lagarde, a presidente do FMI, comparou o sobe e desce das criptomoedas com a bolha das empresas pontocom, em 2000.
Segundo analistas, no entanto, a arquitetura do projeto da libra corrige essas vulnerabilidades. Conhecido pelo mote "mover-se rápido e quebrar as coisas", Zuckerberg, desta vez, resolveu andar devagar e com cuidado. "A libra parece a mais bem pensada e ambiciosa iniciativa de moeda privada", diz Lara Resende. "O fato de estar associada a uma plataforma global e capilarizada como a do Facebook dá a ela uma vantagem em relação às similares. Uma moeda é uma convenção compartilhada, portanto, um 'bem público', que está sempre associado a uma 'comunidade'."
A libra será atrelada a uma reserva de ativos de baixo risco, como depósitos bancários em várias divisas e títulos do Tesouro. Essa característica, além de servir de lastro à moeda, observa Alexandre Vasarhely, da BLP Crypto, a transforma em um investimento em potencial, à semelhança de um ETF (Exchange Traded Fund), um tipo de fundo negociado em bolsa. Além do mais, a novidade do Facebook será apoiada por um consórcio de 28 grandes empresas, como MasterCard, Visa, Uber, Lyft, Spotify, eBay e PayPal, além de entidades sem fins lucrativos como o Women's World Banking, que ajuda 24 milhões de microempresários em 28 países, sendo 80% mulheres, a ter acesso a serviços financeiros (o que inclui empréstimos). Cada companhia vai investir US$ 10 milhões no projeto.
Todo esse gigantismo e robustez do modelo, associado à capacidade ímpar do Facebook de ter acesso a dados dos consumidores, assustaram ainda mais autoridades e especialistas. Um dos ataques mais violentos contra a criptomoeda da rede social partiu de Katharina Pistor, professora de direito comparado na Columbia Law School, em Nova York. Ela criticou o projeto em um artigo cujo título resume seu ponto de vista: "A Libra do Facebook precisa ser parada". Logo na primeira linha do texto, escreve: "O Facebook acaba de anunciar sua mais recente proposta de dominação mundial".
O coro dos descontentes incluiu nomes como Mark Carney, presidente do Bank of England. Ele disse que o Facebook não pode esperar que a libra se beneficie do "descontrole que ajudou a empresa a conquistar uma posição dominante nas redes sociais". A presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, Maxine Waters, pediu simplesmente que a companhia suspenda o projeto. Justificou: "Devido ao passado conturbado, estou solicitando que ela concorde com uma moratória sobre qualquer avanço no desenvolvimento de uma criptomoeda, até que o Congresso e os reguladores tenham a oportunidade de examinar essas questões".
Boa parte dos parlamentares americanos quer barrar a ideia. Donald Trump também torceu o nariz para ela. Para acalmar os ânimos, David Marcus, responsável pela libra, no Facebook, disse no início desta semana que a empresa não lançará a moeda até que as questões regulatórias estejam equacionadas. Procurado pelo Valor, o Facebook não comentou as críticas.
Ao anunciar a criação da libra, Zuckerberg mexeu em um vespeiro. Sacudiu a indústria financeira, além de ter suscitado discussões sobre temas como segurança e a soberania das nações e suas moedas. Velhos problemas relacionados à privacidade da rede também estão se voltando contra a empresa. Mas até que ponto essa movimentação pode barrar uma inovação? "Como o projeto necessitará de autorizações legais e administrativas das autoridades financeiras, o lobby poderá atrasar sua aprovação", diz Lara Resende. "Mas a força da tecnologia acabará por prevalecer."
Foi o que se viu nas últimas décadas em episódios envolvendo a indústria fonográfica e a mídia, ainda que esses setores não tenham a mesma capacidade de reação e nível de sensibilidade da área financeira. Mesmo assim, o relatório anual do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) indica que essa resistência vem sendo minada nos últimos anos. Hoje, os serviços financeiros já representam 11% das vendas das gigantes globais de tecnologia (Amazon, Facebook e Google, além das chinesas Alibaba e Tencent). Na China, os pagamentos instantâneos movimentam 16% do PIB do país, segundo dados do BIS. A adesão a sistemas desse tipo cresce em regiões como o Leste da África e a América Latina, além de todo o Sudeste da Ásia.
Fernando Meirelles, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Easp), acredita que o ataque maciço das "big techs" ao front financeiro é inadiável. "Esse é um segmento muito atraente, e ninguém vai querer ficar de fora", diz. "Não duvido de que, de um mês a um ano, os concorrentes diretos do Facebook sigam o mesmo caminho e lancem suas moedas digitais de alcance global." Meirelles, no entanto, não acredita que o futuro das criptomoedas privadas tenha espaço para acomodar muitos participantes. "Os vendedores serão poucos. Talvez, haja só um."
Nesse caso, como observou Harold James, professor de história e assuntos internacionais na Universidade de Princeton, em um artigo publicado no Project Syndicate, o mundo consolidaria uma antiga proposta de John Maynard Keynes (1883-1946), que idealizou a moeda global "bancor" (palavra de origem francesa composta por ouro criado por bancos).
"Não tenho dúvidas de que, no futuro, vamos comprar qualquer coisa por meio de um clique em uma plataforma digital. Vai ser simples assim. Ninguém vai saber o que está por trás desse processo, se são bancos ou companhias de tecnologia", afirma Meirelles. "Hoje, só não é possível dizer qual empresa será a campeã dessa disputa." Com o anúncio da libra, o Facebook disparou o sinal de largada de uma corrida que, no médio prazo, pode não ter mais volta.